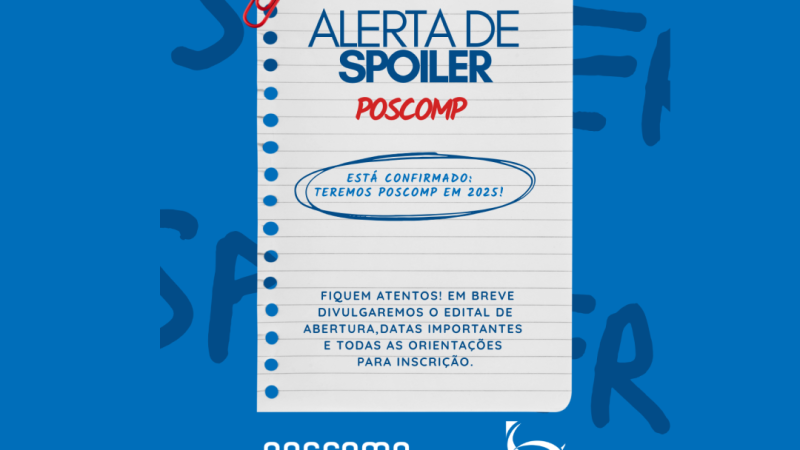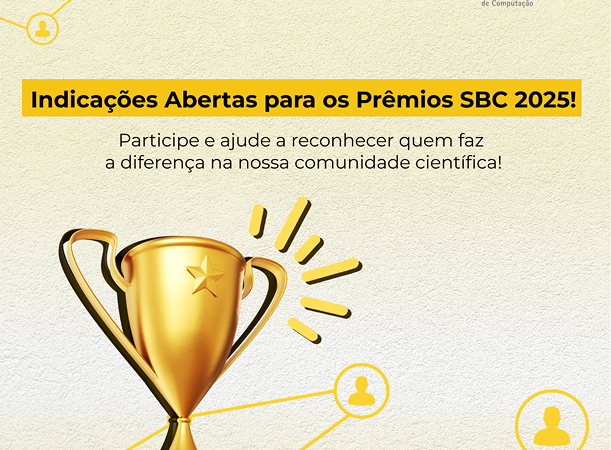O Paradoxo das Redes

Neste artigo, o autor discute O Dilema das Redes, documentário dirigido por Jeff Orlowski, lançado em 2020. Em sua análise, o articulista faz um arguto mapeamento de seis teses apresentadas no documentário para denunciar efeitos danosos do uso continuado de plataformas digitais e, em especial, redes sociais. Boa leitura!
Por Guilherme Preger
O Dilema das Redes (The Social Dilemma) é um documentário dramático de 2020 dirigido por Jeff Orlowski para a plataforma de vídeo sob demanda Netflix. O documentário gerou um intenso debate nas redes sociais, ou mídias sociais, que são justamente o alvo temático da produção americana.
O estilo “dramático” do documentário, que mistura cenas ficcionais com entrevistas de pessoas reais, é o do filme de denúncia. A obra de Orlowski alerta sobre os efeitos danosos do uso continuado das mídias (ou plataformas) digitais.
Quais são as teses que o filme apresenta para denunciar tal uso perigoso das plataformas? Penso que é possível descrevê-las na seguinte ordem:
- 1 – As plataformas usam os dados inseridos pelos seus usuários à revelia deles para gerar lucros para o próprio negócio;
- 2 – Os dados individuais são consolidados coletivamente em “metadados” (padrões comuns entre dados) que descrevem comportamentos gerais de seus usuários;
- 3 – Os metadados são oferecidos a anunciantes e nada desse valor é repassado aos usuários;
- 4 – Assim, a participação dos usuários nas plataformas é uma forma de trabalho não remunerado: eles trabalham para as plataformas mas nada recebem por isso;
- 5 – As plataformas manipulam o acesso dos usuários de forma a gerar adição em seu uso que se torna então compulsivo (adição digital);
- 6 – A manipulação do uso compulsivo das plataformas facilita a formação de grupos extremistas e a reprodução indiscriminada de fake news (informações falsas ou desinformação).
Todas as teses acima são bastante conhecidas dos especialistas e são discutidas em centenas de artigos e livros acadêmicos. De fato, várias pessoas entrevistadas pelo documentário são teóricas de mídias sociais, tais como Shoshanna Zuboff, Jaron Lanier ou Cathy O’Neill. Além desses críticos, também dão entrevistas profissionais e analistas de dados que trabalharam em algumas plataformas no desenho de seus algoritmos e que confirmam a série de estratagemas de programação utilizados para capturar a atenção dos usuários para que eles estejam sempre as abastecendo de novos dados. Já há uma farta bibliografia acadêmica sobre as plataformas digitais e aquilo que muitos denominam de “capitalismo de plataforma”, ou “capitalismo de vigilância” (Zuboff, 2019), Big tech (Morozov, 2018) ou “governamentalidade algorítmica” (Rouvroy, 2015). O documentário da Netflix leva essas questões a um público bem maior e de maneira mais “mastigada” ou trivial, simplificando a complexidade dos debates acadêmicos.
Infelizmente a produção de Jeff Orlowski não parece facilitar o trabalho de explicação dos especialistas para o público mais abrangente. Mesmo se apoiando numa linguagem bem mais direta e ainda dramatizada, o filme deixa confusos os espectadores. Qual é afinal o dilema das redes? Ou mais corretamente conforme o título original da produção, qual o dilema social envolvido no uso das plataformas? É o fato de nelas os usuários trabalharem sem receber (trabalho não remunerado), ou é o fato desse uso estar sendo manipulado à revelia de seus interesses, ou ainda o fato das plataformas lucrarem com a adição digital provocada por códigos de programação herméticos? Ou, colocado da forma mais simples possível, o dilema estaria entre usar ou abandonar as mídias sociais?
Se o documentário não consegue formular adequadamente o dilema das redes, tampouco consegue oferecer soluções credíveis aos espectadores. Afinal, o que se entende por dilema social? Seria um problema moral, econômico ou legal? Ou tudo isso junto? Pois, para cada um desses problemas haveria uma abordagem diferente, e uma resolução (se existente) também distinta. Talvez seja por isso que um dos teóricos entrevistados, o crítico Jaron Lanier, músico e cientista da computação, autor do famoso trabalho já disponível em edição brasileira, Dez Argumentos para você deletar agora suas redes sociais (Editora Intrínseca, 2018), defende peremptoriamente que as mídias sociais sejam abandonadas. Segundo ele, essa atitude individual resolveria todos os problemas de uma vez só. Mas afinal o dilema, conforme diz o filme, não é social?

Por isso, ao final, a sugestão radical de Lanier de abandonar as redes, ou aquela mais moderada de vários especialistas, restringir o uso das plataformas para menores de idade, parece tão irrealista ou pouco eficaz. São soluções individuais que basicamente mantêm os problemas tais como eles se apresentam socialmente. E se abandonar as redes, num boicote público, pode eventualmente ser um movimento bem-sucedido (porém improvável), essa solução deixa no ar outros problemas: como manter esse boicote permanentemente sem impedir o funcionamento das plataformas? Como articular um boicote coletivo quando o número de usuários das maiores plataformas ultrapassa a casa dos milhões ou mesmo bilhões (como o Facebook) de pessoas em vários países? Afinal, é viável mesmo abandonar uma tecnologia sem se perguntar antes se ela é efetivamente necessária, ou útil socialmente, sem perguntar afinal se seus usuários realmente desejam abandoná-las?
Creio que a melhor forma de abordagem seria analisar separadamente os problemas apresentados pelo documentário em vez de juntá-los como se fossem um único problema. A primeira tese, por exemplo, é parcialmente verdadeira. Quase todas as plataformas oferecem aos usuários a adesão gratuita mediante a aceitação de suas condições de uso. É absolutamente verdadeiro que quase ninguém dá atenção às cláusulas desse contrato informal e acaba aceitando cegamente as condições. Assim, não é certo que o uso dos dados pelas plataformas ocorra à revelia dos usuários. Há aqui duas questões. A primeira é que é uma falsa opção: quem não aceita as condições não participa da plataforma. As plataformas são então verdadeiros “territórios digitais privados” ou “jardins murados” (walled gardens[i]) e consideram que têm irrestritos direitos por determinar suas condições de uso. No entanto, é falso que as plataformas possam estabelecer contratos unilaterais irrestritos ou incondicionais. Todos os contratos da vida social podem e devem ser regulados pelos poderes públicos. Isso acontece em todas as áreas da vida social, como nos casos dos contratos de trabalho, de aluguel, de contratação de serviços, de compra e venda de produtos, etc. De fato, a atuação das plataformas, exatamente por serem globais, ainda se dá de maneira muito pouco regulada, mas vários países têm avançado na questão regulatória, estabelecendo os direitos dos usuários, sobretudo em relação aos seus dados privados[ii].
E com isso passamos à segunda tese. É certo que as plataformas armazenam dados privados dos usuários e que eles podem requerer direitos de privacidade sobre esses dados. Mas de quem são os metadados, isto é, os dados sobre os dados? Muitas plataformas trabalham com metadados que são informações obtidas não deste ou daquele usuário, mas de padrões de uso mais coletivos, entre milhares de usuários. Tais metadados são obtidos graças aos mecanismos de “mineração de dados” (data mining), ou de “extração de dados”. Quem são os “donos” desses metadados? As plataformas podem coerentemente defender que esses metadados são de sua propriedade, pois são seus engenheiros que escrevem os algoritmos de mineração dos dados. Este é um ponto que devemos deixar em aberto para uma discussão posterior, quando abordarei a utilidade social das plataformas.
A hipótese 3 sugere que as plataformas vendem os “metadados” e nada repassam aos seus usuários. Algumas plataformas, como o YouTube, desenvolveram formas de “monetizar” os canais e perfis de seus usuários. Algumas plataformas de conteúdo adulto também. É certo que o repasse é sempre restrito (o YT exige um número mínimo de “seguidores” para ter o direito de monetizar) e certamente muito menor do que o total obtido das próprias plataformas. Aqui devemos classificar as plataformas em suas diferentes estratégias de receita. Algumas vendem espaço de suas telas para anunciantes de forma semelhante às mídias tradicionais. Algumas vendem os “perfis” de usuários para empresas de mercado poderem “mapear” as demandas de seus consumidores. Uma busca por horário de voos no Google pode gerar uma mensagem para uma empresa de aviação promover um desconto para este usuário específico. Algumas dessas estratégias são chamadas de segmentação por “microtargeting”, que é uma forma de obter uma segmentação capilar dos consumidores, quase pessoal. Ainda há outras estratégias de financiar as plataformas. Há aquelas como as de transporte tipo Uber e de aplicativos de entregas que ficam com uma parcela da receita de seus usuários (motoristas e entregadores). Há outras plataformas, como a Netflix, que se financiam por assinatura e não dependem de anunciantes. Outras como a Amazon são plataformas de distribuição que aproximam fornecedores de seus consumidores. Em todos os casos, no entanto, os metadados são utilizados para diferentes fins, com distintas maneiras de valorizar essas informações. Então a questão da hipótese anterior retorna: a quem pertencem os metadados?
A quarta hipótese é mais crucial. Se os usuários em suas atividades de comunicação genéricas estão gerando metadados para as plataformas e elas, de um jeito ou outro, estão faturando economicamente em cima dessa geração, isto certamente configura um trabalho não remunerado. E esta representa a questão teoricamente mais complexa. É preciso resgatar o trabalho esquecido do teórico marxista americano Dallas Smythe. Nos anos 70 do século passado, ele publicou um artigo seminal, Communications: Blind Spot of Western Marxism (Smythe, 1977), no qual ele afirma que o marxismo estava “cego” para o trabalho não remunerado que o trabalhador exercia fora do local do trabalho. Na concepção clássica da economia política, da qual o marxismo é devedor, há uma separação estrita entre o mundo do trabalho e o mundo doméstico. Para Smythe, no entanto, o empregado, ao sair do local de trabalho, fábrica ou escritório, continua trabalhando, vendendo sua “força de audiência” (audience power) da mesma forma como no local de trabalho ele vende sua “força de trabalho”. Ambas as forças são abstratas, porém pela primeira o trabalhador recebe um salário (sempre inferior à mais-valia capturada pelo empregador) e pela segunda não. No entanto, a mercantilização da audiência permite a constituição da “indústria da consciência” que vende a audiência gratuita do trabalhador a empresas que precisam explorá-la para vender suas mercadorias e “realizar” o capital. Smythe propôs essa ideia antes das plataformas digitais se tornarem uma realidade, no esquema ainda tradicional da captura de audiência “broadcast” dos meios de comunicação de massa. Ele foi um dos primeiros a enxergar que a comunicação se tornou uma mercadoria. Seu trabalho teórico (que foi muito criticado na época por outros marxistas) foi contemporâneo das transformações no capitalismo que atualmente denominamos de “neoliberalismo”. Uma das características principais do neoliberalismo é justamente derrubar as fronteiras tradicionais entre o mundo do trabalho e o mundo do consumo, ou doméstico. Nos últimos 50 anos assistimos a uma inédita informalização do trabalho no sistema capitalista, bem como ao surgimento da ideologia do empreendedorismo, no qual o trabalhador se vê como um empresário e vende seu trabalho como uma mercadoria, podendo desempenhar sua produção em qualquer lugar, sobretudo em sua própria casa-empresa, ou nas ruas (fábrica social), como trabalhadores-empreendedores informais que comerciam produtos cada vez mais precariamente. Por sua vez, mais recentemente, várias estudiosas feministas da “Teoria da Reprodução Social” têm argumentado que esta não é uma tendência nova e que desde o início o capitalismo sempre explorou o trabalho doméstico não remunerado sobretudo de mulheres, nas residências, e o de escravos, nas colônias. No caso do trabalho feminino doméstico, ele incluía todos as tarefas de reprodução e conservação da vida, como educação, alimentação, limpeza, formação dos jovens, cuidado e sobretudo o trabalho sexual. As teóricas feministas demonstram ser os corpos de mulheres (mas também de homens) verdadeiras máquinas de reprodução da “força de trabalho”. Segundo elas, o marxismo ortodoxo sempre foi cego para a criação de valor do trabalho não remunerado social[iii]. Por sua vez, em seu artigo seminal, Manifesto Ciborgue (1985), Donna Haraway já chamava atenção para o fato de que a “informática da dominação” iria precarizar os trabalhos produzindo uma “feminização” da força de trabalho. O advento da infraestrutura digital, a partir dos anos 90, acentuou e acelerou o processo de informalização do trabalho de um lado e, em função do binarismo das redes digitais, baseadas na distinção binária 0/1, levou a um “colapso de contexto” ou “confusão de fronteiras” entre os domínios públicos do trabalho e da vida privada doméstica[iv]. O cenário pandêmico é a consecução definitiva dessa confusão de fronteiras. Devemos então chegar à conclusão que a questão do trabalho gratuito dos usuários nas plataformas digitais as abastecendo de dados, através de um “trabalho informacional” (DANTAS et al., 2014), e gerando lucros para as plataformas, precisa ser observado dentro de uma visada bem mais abrangente, não como uma exclusividade das mídias digitais (que acentuam essa forma de acumulação de capital), mas como uma tendência mais geral do capitalismo desde suas origens que, no entanto, se estabelece nessa forma específica atual dentro do contexto da “transformação digital” da infraestrutura econômica.
Assim como nenhum marxista sério poderia admitir a hipótese de que para o trabalhador, após reconhecer a exploração de sua força de trabalho, a solução seria simplesmente “abandonar” o mercado de trabalho, também parece ingênuo sugerir que os usuários que trabalham para as plataformas as abandonem, abrindo mão dos eventuais valores afetivos, sociais ou comunicacionais que usufruem. Assim, a quinta tese levantada pelo documentário, de que as plataformas manipulam o acesso de seus usuários para gerar o abuso compulsivo e a adição, embora verdadeira, merece ser observada com cautela. Sem dúvida, essa é a tese mais enfocada pelo filme de Orlowski, para a qual mobiliza os artifícios ficcionais do roteiro, criando personagens que já não conseguem mais em suas vidas domésticas se desligar da rede. Essa montagem ficcional chega ao ponto de apresentar personagens manipuladores atrás das telas que observam cada acesso individual e apresentam informações que irão seduzir e viciar os usuários. Essas personagens são humanizações ficcionais dos famosos algoritmos que “vigiam” os usos particulares e “oferecem” opções de acesso diferentes conforme o perfil do usuário. Aliás, a “perfilação algorítmica” (Rouvroy, 2015) é um dos problemas levantados por muitos teóricos. Perfilar é definir através de algoritmos padrões recorrentes de comportamentos e classificar os usuários em categorias de perfis. Com isso, os algoritmos acabam conduzindo a um reforço das condutas particulares, pois os perfis algorítmicos são extraídos das informações dos usos, e ao mesmo tempo servem de “modelo” aos usuários, num circuito retroativo (feedback) de reforço. Como esses usos dirigidos tendem a ter sempre um viés de confirmação da identidade do usuário, acaba por se tornar compulsivo e previsível. No entanto, o documentário acaba dando por demais importância aos malefícios da própria adição digital, como se fosse uma substância psicoativa, uma “droga”, e o roteiro termina por apresentar uma formulação essencialmente moralista. As redes digitais fazem mal porque viciam, tal como outras drogas perseguidas por lei, o que reforça um discurso moralista de demonização da adição.

A demonização da adição acaba por se conectar com a sexta tese, a de que o uso compulsivo favorece a formação de grupos extremistas (curiosamente denominados no documentário de “Radical Center”, o “Centro Radical”) políticos, bem como a proliferação das fake news. Essa tese sugere que os usuários adictos já não são mais capazes de distinguir corretamente a veracidade das informações que recebem, nem são capazes de controlar sua adesão aos grupos extremistas. Ou seja, essa tese, conforme apresentada no documentário, é contígua à ideia de que usuários adictos não estão inteiramente na posse de suas capacidades críticas. No entanto, o “colapso de contexto”, isto é, o apagamento ou a confusão de fronteiras (entre público e privado, entre direita e esquerda, entre fato e mentira, entre certo e errado, entre trabalho e lazer, etc.) não advém de uso viciado dos usuários, mas é uma consequência da característica digital do código binário “equiprovável”[v] e do uso “opaco”, nada transparente, dos algoritmos digitais. Justamente essa característica da infraestrutura digital foi bastante explorada pelos grupos de extrema-direita em vários lugares do mundo (Cesarino, 2020). A esse respeito, é preciso admitir que o próprio The Social Dilemma, ao misturar ficção com não ficção, está fazendo uso dessa “confusão de fronteiras” para “convencer” os espectadores de suas teses mediante estratégias narrativas que manipulam a relação entre veracidade e ficcionalidade.
A insistência na tese moralista da adição digital faz o documentário perder o foco da crítica política da nova economia das plataformas. Se estamos entrando, de fato, numa fase de “capitalismo comunicacional” (Zuboff, 2019), na qual a comunicação se torna a mais importante mercadoria fictícia[vi], não basta simplesmente opor ao novo modo de produção/reprodução saídas individualistas, exatamente porque não há mais para onde fugir. O modo de regulação neoliberal apresenta um novo tipo de colonialismo: a digitalização do mundo da vida, o mundo da reprodução social, onde a sociedade se constrói e se reconstrói. Nessa perspectiva, o capitalismo digital se torna então um verdadeiro parasita da reprodução social, necessitando de uma permanente atividade comunicativa para também poder se reproduzir enquanto capital. A primeira questão que se coloca neste contexto é: as plataformas digitais realmente são úteis socialmente? A infraestrutura digital que as acompanha não pode ser utilizada para poupar trabalho e produzir bens sociais de maneira mais eficaz? Como pode se dar uma nova apropriação desses meios computacionais em rede de modo a permitir um uso socialmente necessário, eficaz e desejável da tecnologia digital? Será o capitalismo de plataforma a única maneira de organizar essa nova infraestrutura? Gostaria de terminar este artigo com uma breve reflexão sobre este tópico.
O dilema das redes é antes o grande paradoxo que confrontamos. De um lado, o capitalismo das plataformas coloniza a vida social através do “solucionismo técnico” (Morozov, 2018) pelo qual as ferramentas digitais se apresentam como a panaceia para todos os problemas, porém assim o faz com uma mercadoria, a comunicação, que não pode ser efetivamente “vendida” ou “trocada”. Como muitos teóricos já observaram, a comunicação é um bem que só pode ser compartilhado, nunca trocado. Por isso, embora promova a “confusão de fronteiras” entre a esfera do trabalho e a esfera social, as plataformas se organizam como verdadeiras “fortalezas digitais” nas quais seus próprios algoritmos, como novas “fórmulas da Coca-Cola”, se mantêm fechados, criptografados e herméticos aos usuários. Podemos até especular que o capitalismo está se transformando numa espécie de “feudalismo digital”: a plataforma é um “reino digital” que “arrenda” terrenos virtuais de comunicação, cobrando certo valor pelo seu uso. Nesse território virtualmente murado, a lei que rege os usos é representada pelos algoritmos herméticos que “rodam” na plataforma. Temos então a “governamentalidade algorítmica” (Rouvroy e Berns, 2015), que é também uma nova espécie de soberania digital: são os algoritmos que exercem a lei e que “decidem” quais os usos válidos e que calculam o valor da colaboração dos usuários. Além disso, através da mineração de dados, produzem perfis que irão dirigir comportamentos futuros dos usuários. Na medida em que essas plataformas ampliam suas esferas de atuação, a soberania digital vai substituindo a soberania democrática ou cidadã, governada por leis supostamente deliberadas em parlamentos legislativos. É o caso, por exemplo, do tema das “cidades inteligentes” (smart cities): delegam-se o controle e a organização da cidade a plataformas privadas que através de algoritmos fechados controlam o ir e vir de pessoas, de veículos, a formação de demandas de reconhecimento, segurança, etc. A própria burocracia estatal se torna uma tecnocracia digital, como mostra o filme premiado Eu, Daniel Blake, de Ken Loach (2016), na qual um simples pedido de licença médica pode ser decidido por um algoritmo, através de um racionalidade obscura e inquestionável.

Por outro lado, as plataformas digitais permitem uma reviravolta na narrativa de que apenas o Mercado pode conciliar a oferta e a demanda de forma ótima e que o Estado, através do planejamento centralizado, não é capaz. Este foi o “Debate do Cálculo Econômico” travado por neoliberais nos anos 30 e 40 do século XX, como Mises e Hayek. Para esses, apenas o Mercado pode fazer uma alocação ótima dos recursos, e o Estado é ineficiente para esta tarefa. Esta tese nunca foi confirmada e, na verdade, foi matematicamente contestada várias vezes[vii]. As tecnologias digitais reacenderam esse debate com a proposta de um “socialismo digital” através das plataformas, que permite pôr em contato produtores e consumidores e diminuir a cadeia de intermediários[viii]. Ao mesmo tempo, nada impede que as plataformas sejam desenhadas, construídas e utilizadas sem que retirem uma “renda medial” pelo seu uso. Fornecedores podem se reunir em plataformas cooperativas para ofertar seus produtos e entregar a possíveis consumidores, sem que intermediários se apropriem da receita. O custo de desenho de uma plataforma é pequeno e o de sua manutenção pode ser igualmente dividido entre seus usuários, provavelmente através de tarifas irrisórias. Já existem muitos projetos de plataformas cooperativadas, permitindo que, em oposição ao Capitalismo de Plataforma, surja o Cooperativismo de Plataforma (Scholz, 2016). As plataformas digitais então poderão ser úteis para viabilizar a iniciativa de “redes solidárias” cooperativistas de produção, que através de trocas de dados, conseguirão produzir sob demanda, sem visar a acumulação de lucros, e redistribuindo o custo de manutenção da plataforma[ix]. A longo prazo, a existência de plataformas como Uber, ou de aplicativos de entregas, que se apropriam de forma espúria da receita de seus usuários, será considerada uma aberração desnecessária.
É certo que a digitalização da infraestrutura produtiva aponta para uma profunda transformação técnica, provavelmente tão revolucionária quanto o surgimento da imprensa. Robert Logan (2012) afirma que a internet é mais do que uma técnica, é uma nova linguagem. O filósofo theco-brasileiro Vilém Flusser (2008 e 2010), premonitoriamente nos anos 80 do século passado, previu que o universo das “imagens técnicas” inauguraria uma nova forma de se comunicar, de se relacionar e de pensar. O universo digital não é mais organizado pela linguagem linear do alfabeto escrito, mas por ícones que se organizam em telas de “pixels” num espaço zero-dimensional. A linguagem digital, seus algoritmos e seus programas, são linguagens complexas que irão desbancar a hegemonia do código escritural. Desde o surgimento da forma escrita, há cerca de 2500 anos, apenas em meados do século XX 50% da humanidade alcançou a condição de alfabetizada. Durante a Idade Medieval, por exemplo, uma ínfima percentagem de pessoas, que estudavam em mosteiros, dominava as artes da escrita e podiam ter acesso a livros. O código escritural era tão inacessível e obscuro quanto para a maioria de nós são os programas e algoritmos de computação, e seus códigos-fonte. Estamos atualmente nesta “Era Medial” tal como estavam os habitantes da idade média, ignorantes das leis cifradas que regem os mundos. Por isso, a principal demanda para quebrar o monopólio, ou mesmo o império, dos tecnocratas que escrevem algoritmos herméticos que “decidem” por nós, é defender o letramento digital público. As plataformas são baseadas em programas que são fundamentalmente textos. Programas são montados a partir de outros programas (compilados). Construir plataformas mais livres e honestas não é uma tarefa tão remota ou impossível. Essa competência está apenas elitizada. A democratização das plataformas passa pela educação pública das linguagens de programação. Podemos sonhar no futuro, com plataformas mais populares e úteis, ou mesmo mais poéticas.
Notas
[i] Walled Gardens indica metaforicamente as plataformas fechadas, realizadas com softwares fechados em oposição a softwares livres, cujos códigos de programação permanecem inacessíveis aos seus usuários.
[ii] O exemplo mais relevante é o RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados, (UE) 2016/679, um regulamento do direito europeu sobre privacidade e proteção de dados pessoais, aplicável a todos os indivíduos na União Europeia e Espaço Económico Europeu que foi criado em 2018. Regulamenta também a exportação de dados pessoais para fora da UE e EEE. O RGPD tem como objetivo dar aos cidadãos e residentes formas de controlar os seus dados pessoais e unificar o quadro regulamentar europeu. Disponível em: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9565-2015-INIT/en/pdf>.
[iii] Ver Aruzza et al, 2019 e Federici, 2019.
[iv] Ver o trabalho de Leticia Cesarino, 2020.
[v] Equiprovável significa que para a opção binária 1/0 há probabilidade igual para cada bit. Isso significa um caso de “máxima entropia”, como se fosse decidido através de “cara ou coroa”.
[vi] Para o conceito de “mercadoria fictícia”, conferir Polanyi, 2012. Karl Polanyi em seu clássico afirma que o capitalismo foi marcado por três grandes mercadorias fictícias: a terra, o trabalho e o dinheiro. São fictícias no sentido de falsas, pois essas mercadorias não têm valor de “troca”, já que não se trocam. A terra é imóvel e só pode trocar de propriedade; o trabalho é a vida do trabalhador, e a “força de trabalho” é uma abstração; o dinheiro é um veículo do valor de troca simbólica, mas enquanto matéria não tem valor algum (dinheiro velho não tem valor simbólico e não pode ser trocado). Veremos que a comunicação também é uma mercadoria fictícia.
[vii] O Mercado pode encontrar uma situação de equilíbrio, mas nada pode indicar que este equilíbrio seja ótimo. Ao contrário, o “equilíbrio” obtido pelo Mercado pode ser profundamente desigual e por isso será sempre provisório.
[viii] Cf. MOROZOV, Evgeny. DIGITAL SOCIALISM? The Calculation Debate in the Age of Big Data. Disponível em <https://newleftreview.org/issues/II116/articles/evgeny-morozov-digital-socialism>. (Consultado em 08/08/2020). Morozov relembra nesse artigo o debate entre planificadores e neoliberais, como Hayek. Esses últimos diziam que a planificação centralizada não era um método eficaz nem razoável de articular oferta e demanda, apenas a “ordem espontânea” era capaz de “computar” satisfatoriamente essa articulação. Porém, segundo Morozov, as plataformas digitais são uma nova maneira de realizar essa articulação com eficácia. No contexto brasileiro, o professor Eleutério Prado tem levado esse debate com a série de artigos “Socialismo, utopia inviável?”, disponível em <https://outraspalavras.net/alemdamercadoria/socialismo-utopia-inviavel-1/>. Consultado em 08/08/2020.
[ix] Cf. PREGER, 2020.
Referências
ARRUZZA, C.; BHATTACHARYA, T.; FRASER, Nancy. Feminismo para os 99%: um Manifesto. São Paulo: Boitempo, 2019.
CESARINO, Leticia. Como vencer uma eleição sem sair de casa. A ascensão do populismo digital no Brasil (Internet & Sociedade, 2020). Disponível em: <https://www.academia.edu/42077568/Como_vencer_uma_elei%C3%A7%C3%A3o_sem_sair_de_casa_a_ascens%C3%A3o_do_populismo_digital_no_Brasil_Internet_and_Sociedade_2020_>.
DANTAS, Marcos; CANAVARRO, Marcela; BARROS, Marina. Trabalho gratuito nas redes: de como o ativismo de 99% pode gerar ainda mais lucros para 1%. Liinc em Revista, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: <http://marcosdantas.com.br/conteudos/2014/07/16/trabalho-gratuito-nas-redes/>.
FEDERICI, Silvia. Ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. São Paulo: Editora Elefante, 2019.
FLUSSER, Vilém. O Universo das Imagens Técnicas. São Paulo: Annablume, 2008.
_______. Há futuro para a escrita? São Paulo: Annablume, 2010.
LOGAN, Robert K. O que é a Informação. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.
MOROZOV, Evgeny. Big Tech. A Ascensão dos dados e a morte da política. Ubu, 2018.
POLANYI, Karl. A Grande Transformação. As origens de nossa época. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
PREGER, Guilherme. Cenários especulativos pós-pandêmicos: a catástrofe sanitária e as redes solitárias. Revista P2P Inovação, v.7, 2020. Disponível em: <http://revista.ibict.br/p2p/article/view/5407>.
ROUVROY, A.; BERNS, Thomas. Governamentalidade algorítmica e perspectivas de emancipação: o díspar como condição de individuação pela relação?. Revista EcoPós. Dossiê Tecnopolítica e Vigilâncias. Vol. 18. No 2. 2015.
SCHOLZ, Trevor. Cooperativismo de Plataforma. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo, Autonomia Literária, Editora Elefante, 2016.
SMYTHE, Dallas W. Communications: Blind Spot of Western Marxism. Canadian Journal of Political and Social Theory/Revue Canadienne de Théorie Politique et Sociale, Vol. 1, No. 3, Fall/Automne, 1977. Disponível em: <https://journals.uvic.ca/index.php/ctheory/article/view/13715>.
ZUBOFF, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs, 2019.
Sobre o autor

Guilherme Preger, carioca, é engenheiro e escritor, doutor em Teoria Literária pela UERJ (2020). É autor de Capoeiragem (7Letras, 2013) e Extrema Lírica (Oito e Meio, 2014). É organizador do Clube da Leitura (Clube da Leitura), coletivo de prosa literária do Rio de Janeiro, atuante desde 2007 e foi editor das quatro coletâneas do Coletivo. É autor do blog Fabulação Especulativa (Fabulação Especulativa – Medium), Semiopolítica (Semiopolítica) e seus trabalhos acadêmicos podem ser visitados no endereço Guilherme Preger | UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro / Rio de Janeiro State University – Academia.edu.
Como citar este artigo
PREGER, Guilherme. O paradoxo das redes. SBC Horizontes, dez. 2020. ISSN 2175-9235. Disponível em: <http://horizontes.sbc.org.br/index.php/2020/12/o-paradoxo-das-redes/>. Acesso em: DD mês. AAAA.